Meio ano de Presidência Biden mais que o esperado, mas ainda falta muito diz o Democratas Joe Biden
- Agência Brasil Net

- 31 de mai. de 2022
- 12 min de leitura

Meio ano de Presidência Biden: mais que o esperado (mas ainda falta muito)
“Não há pontes democratas ou estradas republicanas” (Joe Biden)
Fez campanha ao centro e com moderação institucional, prometendo o regresso à decência e à normalidade possível, depois de quatro anos de distúrbio trumpista.
Mas os primeiros seis meses de Joe Biden na Casa Branca mostraram um Presidente sem tempo a perder -- recordista de ações executivas, com três grandes planos federais que revelam visão mais à esquerda do que aparentava.
O mais velho Presidente da História da América tem provado que está mais do que em condições de exercer o cargo e não deu, até agora, qualquer sinal de limitação física ou cognitiva. Biden está a conseguir atingir o essencial do que tinha prometido: restauração da dignidade presidencial, controlo da pandemia, recuperação económica. E até tem acenado a acordos bipartidários numa América polarizada. O problema é que a “ferida trumpista” está mesmo para ficar. E isso é um grande problema.
CONCRETIZAÇÃO AMEAÇADA PELA MINORIA NEGACIONISTA
Donald Trump era perito em mobilizar as suas bases enfurecidas -- mas mostrou-se incapaz de governar. Joe Biden dá prioridade à concretização: mesmo que não gere grandes paixões.
As diferenças entre o 45.º e o 46.º Presidentes dos EUA são enormes. Só que a mesma América que teve a capacidade de se livrar de um Presidente que não protegia a população da pandemia e de o substituir por outro que dá o primado à ciência, ao conhecimento e à prudência é, também, a América que acolhe um terço dos seus cidadãos a insistirem na tese de “Big Lie” – e continuam a juram que foi Trump e não Biden a vencer as eleições de novembro.
Apesar das evidências, apesar de todas as decisões judiciais em contrário. Enquanto perdurar esta “doença democrática”, o sucesso da Presidência Biden estará sempre em risco. Porque 6 de janeiro de 2021 mostrou-nos, com a invasão do Capitólio, que as instituições democráticas podem voltar a estar em perigo, enquanto um dos dois partidos do sistema continuar a ser dominado por uma via que apela a comportamentos antidemocráticos.

VACINAÇÃO, VACINAÇÃO, VACINAÇÃO
Joe Biden apontou meta ambiciosa (70% dos adultos imunizados até 4 de julho) e acabou por falhá-la, mas por pouco. O foco agora está em convencer os céticos e, sobretudo, nos segmentos 18-26 anos. Para isso, têm sido usadas estratégias que passam por ofertas ou sorteios de bilhetes para concertos ou bebidas e na aposta de uma comunicação direcionada à “geração Tik-Tok” – como a recente visita da estrela pop Olivia Rodrigo (18 anos, mais de 28 milhões de fãs do Instagram) bem confirma.
Os esforços de vacinação não convencem todos: em abril a média diária de vacinados na América passava os três milhões, por esta altura nem um milhão atinge.
A percentagem de céticos e de aderentes de teses “antivaxxer”, não sendo maioritária, insiste em ser significativa. Mesmo assim, o controlo da pandemia (morriam por dia 4000 mil norte-americanos com COVID quando Biden tomou posse, no final de junho morriam cerca de 300, doze vezes menos) tem permitido acelerar a reabertura da economia.
A “NORMALIZAÇÃO” DEMOCRÁTICA POSSÍVEL PÓS INVASÃO DO CAPITÓLIO
Biden tem sido um Presidente globalmente bem-sucedido, mas algures entre 40 e 60 milhões de norte-americanos insiste numa posição negacionista, entre o ressabiamento eleitoral e um comportamento antidemocrático, próximo da insurreição.
A mesma América que legitimou um novo Presidente que está, de forma consistente e estratégica, a promover a recuperação interna e a regeneração do prestígio externo dos EUA é, também, capaz de acolher no seu seio uma resistência populista, identitária e demagógica, que mantém Trump como seu campeão e impede qualquer tipo de alternativa mais democrática e institucional que possa surgir no Partido Republicano.
Depois de ter sido eleito, há oito meses, com 51,1% dos votos, a taxa de aprovação de Biden não descola desses valores.
A ideia de “América fraturada” permanece. Joe Biden é, de longe, o líder político mais bem posicionado para criar “maiorias de bom senso”. Tem saldo de aprovação positivo de 12 pontos (enquanto o seu antecessor permanece nos 14 negativos).
Os seus atuais 51% resultam da junção das alas esquerda e moderada do Partido Democrata com a maioria dos independentes e cerca de um quinto dos eleitores republicanos. Mas o “Trumpismo” continua dominante no GOP. Vozes moderadas como a congressista Liz Cheney foram afastadas e os líderes republicanos do Congresso (McConnell e McCarthy) fingem ter-se esquecido do que passaram e do que disseram a 6 de janeiro – e voltam a uma estranha subjugação ao Trumpismo.
A Monmouth fez em novembro, em janeiro, em março e em junho sondagem com a mesma pergunta: acredita que houve fraude eleitoral na vitória de Joe Biden sobre Donald Trump? A resposta em novembro do ano passado era perturbadora: 32% disseram que sim. Era muito em cima da eleição. Mas… e em janeiro? 32% outra vez? E em março? A mesma coisa: 32% disseram que sim. E em junho? Também 32%.
Ou seja: um terço dos norte-americanos acredita na “Big Lie” e não sai dessa “realidade alternativa” em que quer acreditar. Em vez de caminhar para uma via de reconstrução democrática, de modo a criar uma alternativa presidencial credível para 2024, o Partido Republicano tem-se fechado ainda mais no nicho trumpiano.
Parece ser uma reação natural, perante o entusiasmo que as bases de Donald Trump continuar a ter, mas do ponto de vista eleitoral não faz grande sentido.
Se a eleição de novembro de 2020 nos voltou a mostrar que a via populista não dá aos republicanos a maioria dos votos a nível nacional, em vez de iniciarem um caminho mais inclusivo, para poder alargar a base eleitoral, o que os republicanos estão a fazer – inspirados pela tática trumpiana antidemocrática e operacionalizada pelas maiorias de legislaturas estaduais – é legalizar o golpe eleitoral.
Como?
Através da supressão do voto para os segmentos que deram inesperadas vitórias a Biden sobre Trump em estados como a Geórgia e o Arizona: os negros, os hispânicos, os eleitores com menor rendimento.
Parece estranho falar-se de barrar, através da lei, o acesso ao voto, mas é isso mesmo que está a acontecer, promovido por legisladores republicanos – reduzindo os locais de voto, colocando-os mais longe de quem mora em locais desfavorecidos, criando situações em que só depois de horas de espera se consiga votar, multando quem dá água ou comida a quem está nas filas, impedindo proteções legais a quem queira votar sem perder o emprego.
A “VIA BIDEN” PARA A RETOMA ECONÓMICA
A Economia dos EUA criou em junho 850 mil novos postos de trabalho, valor recorde da presidência Biden (e muito acima da média mensal de 500 mil dos três registos anteriores). Estes dados colocam a taxa de desemprego dos EUA nos 5,9% (era de 6,3% em janeiro; 6,1% em maio) e posicionam o desempenho mensal da Economia americana já próximo do objetivo de um milhão de novos empregos por mês (considerado ideal para selar a recuperação pós pandémica). Depois dos 760 mil em março, dos 266 mil em abril e dos 559 mil em maio, a reabertura de vários setores da economia americana e a aplicação de vários estímulos e incentivos promovidos pela Administração Biden permitiram este desempenho muito animador de 850 mil novos empregos no último mês na América.
Joe Biden tem os seus trunfos para tentar evitar possível recuo democrático: o crescimento económico, que a Fed previa há um ano de 5% para esta altura, está entre 7,5 e os 10% para o segundo trimestre de 2021.
O consumo privado cresce a 11%. O público e o investimento cerca de metade disso – mas se o Plano de Infraestruturas for aprovado também poderá disparar no próximo ano fiscal. Há quem veja em tudo isto alguns perigos: inflação galopante (o índice de preços no consumidor nos EUA atingiu em junho uma taxa de 5,4% em relação ao mesmo mês de 2020, a maior desde 2008, sendo que em abril já tinha sido de 4,2%; o aumento de preços em cadeia foi de 0,9%, em relação a maio); crescimento anémico para os anos pós-recuperação.
Quanto mais competente se revelar a Administração Biden nestes quatro anos, quanto melhores foram os resultados práticos das políticas de promoção de justiça social e equidade racial, menor será o risco de haver um “backlash” democrático em 2024.
OS PLANOS DE ESTÍMULO COM FORTE CUNHO SOCIAL
A agenda do American Recovery Plan (1,9 biliões de dólares, já aprovado e em marcha), do American Jobs Plan (2,2 biliões de dólares, Plano de Infraestruturas e criação de empregos pelas energias limpas, com 90% dos novos postos de trabalho para americanos sem licenciatura, em fase decisiva de negociações no Congresso, com acordo bipartidário apadrinhado pelo Presidente que prevê a garantia de pelo menos 60% da proposta inicial) e do American Families Plan (1,8 biliões de dólares, apoio às famílias desfavorecidas, à proteção social e educacional das crianças) mostra uma visão de esquerda social-democrata, mais integrada na tradição política europeia e que faz a ponte entre a herança Obama/Hillary e as exigências da esquerda progressista.
Para Joe Biden conseguir ter uma Presidência de sucesso precisa de ser capaz de governar não só para a maioria que o elegeu, mas também para a “América esquecida” – a tal América que ficou desiludida com Obama (ou que nunca foi capaz de o aceitar) e para a qual Hillary Clinton não soube falar. Trump chegou à Casa Branca lançando promessas que não soube cumprir a essa “América esquecida”.
Biden projetou um “Build Back Better” focado na renovação dos empregos nas indústrias do Midwest, na reconversão para as energias limpas, na aposta no emprego americano, numa espécie de “protecionismo versão anos 20 do século XXI”. Tem, no American Jobs Plan, uma importante ativação desta via pragmática de chegar à “América esquecida”, seja pela via do apoio às comunidades rurais, com internet rápida, seja pela aposta em empregos não qualificados, nos projetos de obras públicas (ou lançadas pela administração federal com subcontratação privada).
A grande dúvida é esta: ainda será possível, pela mensagem económica pragmática, travar a ameaça identitária e populista?
O MAIOR PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA EM MEIO SÉCULO
Biden lançou na semana passada o maior programa de combate à pobreza dos EUA em meio século, com foco nas famílias com crianças.
O governo federal americano distribuirá até 300 dólares/mês num crédito fiscal para cada filho e filha, com o objetivo de ajudar cerca de 39 milhões de famílias a aliviar o impacto da pandemia da covid-19. “Acredito que este é um dia histórico para continuar construindo uma economia que respeite e reconheça a dignidade das famílias da classe trabalhadora e da classe média", disse Biden no discurso em que apresentou este programa, que tem merecido fortes elogios da ala esquerda do Partido Democrata, como os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren.
Outro programa social que melhorou a sua eficácia durante a Presidência Biden foi o Affordable Care Act, a Reforma da Saúde de Obama que sobreviveu às tentativas de desmantelamento nos quatro anos Trump. Desde que Biden é Presidente, mais de dois milhões de norte-americanos passaram a beneficiar do programa, sendo que muitos deles tinham ficado sem qualquer proteção por força da pandemia.
INCENTIVO À HABITAÇÃO SOCIAL, ATAQUE AOS MONOPÓLIOS
A Administração Biden apresentou um plano de incentivo à habitação social e de apoio aos pequenos negócios, de modo a promover a equidade racial.
Os programas são destinados a zonas onde os negros e outras minorias étnicas têm níveis socio-económicos ainda mais baixos que a média nacional. O Plano Biden, que tem a Secretária da Habitação Marcia Fudge (uma das de várias negras da atual Administração), reservará 100 mil milhões de dólares para contratos federais com “pequenos negócios em dificuldades”, a concretizar nos próximos cinco anos.
A Administração Biden reforça, no plano apresentado, que “uma família negra americana tem, em média, apenas 13% do rendimento de uma família branca americana”. Ora, este grau de desigualdade racial não é aceitável no país mais rico do mundo em 2021 – e o atual Presidente dos EUA está disposto a utilizar os instrumentos federais para reduzir essa desigualdade. Joe Biden assinou também ordem executiva que revalida os poderes das leis anti-monopolistas aplicadas há 120 anos por Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson, que na altura acabaram com os monopólios do petróleo, mas entretanto enfraquecidas pelas administrações influenciadas pela Escola de Chicago, ultraliberal. Biden retoma-as, mostrando que se preocupa com a excessiva concentração do poder de multinacionais, como as grandes tecnológicas. Um exemplo: nos anos 80 havia 50 grandes empresas media nos EUA. Hoje há apenas seis (Joe Biden: “capitalismo sem competição não é capitalismo, é exploração”).
Noutro âmbito, o Presidente assinou outra ordem executiva que tenta resolver a concentração de poder no mercado dos produtos farmacêuticos, e que leva a que os norte-americanos paguem duas vezes e meia mais pelos seus medicamentos do que os seus vizinhos canadianos. Donde, Biden ordenou estados e empresas a poderem importar medicamentos do Canadá, de modo a alargar o mercado interno.
ORÇAMENTO RECORDE PARA CRISE CLIMÁTICA, IMPOSTO MÍNIMO GLOBAL PARA AS EMPRESAS
A maioria democrata no Congresso apresentou, na sequência da agenda apontada pelo Presidente Biden, proposta de orçamento de 3,5 biliões de dólares ("trillion" na terminologia americana), montante acordado para financiar programas sobre alterações climáticas, em saúde e nas famílias.
A nível global, a Administração Biden tem vindo a liderar, através do Presidente e também da Secretária do Tesouro, Janet Yellen, um acordo ao nível do G20 que exija um imposto mínimo global de 15% para as empresas que obtenham pelo menos 750 milhões de euros por ano de volume de negócios -- uma percentagem mínima, igual em todo o mundo, que possa garantir a arrecadação de verbas muito significativas que, até agora, os gigantes tecnológicos têm conseguido evitar, colocando-se em países fiscalmente assentes em modelos muito flexíveis, como a Irlanda, que no âmbito da OCDE tem vindo a tentar negociar uma exceção.
O “REGRESSO” DA AMÉRICA MAS COM VARIANTES
Biden tem uma perceção ainda mais clara e definida do que tinha Trump sobre a ameaça da China como “potência desafiante” à grande potência ainda incumbente, os EUA. Também por isso, a única grande aprovação bipartidária neste mandato foi uma lei anti-China, sobre a produção de semicondutores nos EUA.
Quanto ao Irão, mantém o objetivo de recolocar os Estados Unidos no Acordo Nuclear promovido por Obama e Kerry, mas para já o que fez mesmo foi autorizar, por duas vezes, ações militares de caráter defensivo na região fronteiriça entre o Iraque e a Síria, contra milícias iranianas.
Biden veio à Europa fazer juras pelo “regresso da América”. Com razão: depois de quatro anos lamentáveis de um Presidente que não estava à altura do cargo que ocupava (e tudo fez para desfazer alianças de várias décadas e destratar amigos e parceiros fiáveis e duráveis), a mudança na Casa Branca gerou alívio profundo deste lado Atlântico, abrindo novo capítulo de esperança.
Mas o “America is Back” que o sucessor de Trump não se cansou de repetir no périplo europeu de junho (Cornualha-Bruxelas-Genebra) não representa o regresso que muitos imaginam ou desejam. A explicação é mais simples do que parece: porque na política internacional, tal como na vida, não é possível fazer “rewind”.
A América que Biden herdou não são os EUA pós-Obama: são os EUA pós-Trump. A chave (“Doutrina Biden”) é recolocar a América em posição liderante para conter a ascensão das autocracias, num assumir de oposição entre “democracias” e “autocracias”. A NATO terá que decidir internamente se a China, não estando no Atlântico, pode mesmo ser colocada como ameaça comum. A Rússia talvez fique menos próxima da China e menos desconfiada dos EUA depois da conversa Biden/Putin de Genebra.
A plataforma de política externa de Biden assenta em três grandes pilares: 1) contenção da China (para já reconhecida pela NATO como “desafio sistémico”, com a Rússia a ser fixada como “ameaça com quem vale a pena fomentar relação estável e previsível”, também pela necessidade de evitar o crescimento de uma “contra-aliança” entre Moscovo e Pequim); 2) regresso à aliança transatlântica (selado nas cimeiras G7, EUA/UE e NATO); 3) regresso aos grandes tratados multilaterais (com o Acordo Nuclear do Irão dependente da evolução política em Teerão e dos sinais e garantias que os iranianos pretendam dar) e fim da mais longa guerra da história americana, com a retirada total do Afeganistão.
A SAÍDA (MUITO ARRISCADA) DO AFEGANISTÃO
Obama e Trump já tinham o objetivo de retirar do Afeganistão, os efetivos militares norte-americanos no país eram mais de 100 mil há uma década e quando Biden chegou à Casa Branca restavam perto de cinco mil. Mas os EUA ainda não se livraram da sua mais longa guerra de sempre e querem abandonar um palco que já pouco diz à opinião pública interna e ao eleitorado.
Biden começou por se comprometer com a data de 11 setembro de 2021 (simbólica, pelo completar, nesse dia, de duas décadas dos atentados contra as Torres Gémeos e o Pentágono) e acaba de a antecipar um pouco mais para 31 de agosto.
É uma jogada arriscada, mas Biden insistiu, em discurso sobre o tema, feito a 8 de julho: “Mais de 90% da retirada já está feita. Não vou mandar mais uma geração de jovens americanos para um cenário de guerra. Não terei uma política de “nation building” para o Afeganistão”. Depois da retirada das tropas no terreno, o uso de drones não tripulados (estratégia muito usada por Barack Obama e mantida pela CIA como prática a apostar em futuros cenários) pode vir a estar nos cálculos do Presidente Biden e do Secretário da Defesa, General Lloyd Austin, para o que terá que ser feito, a partir de setembro, para conter o agravar da situação.
Será esse o maior desafio externo de Biden nas próximas semanas e meses: impedir que a retirada americana do Afeganistão se transforme, a curto prazo, num novo foco de instabilidade e ameaça na região, com os talibãs a ganhar força no terreno e com o fantasma da guerra civil a reemergir.
O foco da Administração Biden é posicionar a China e a Rússia como as duas grandes ameaças, reduzindo esforços noutros elementos de possível tensão.
A ADMINISTRAÇÃO MAIS DIVERSA DA HISTÓRIA AMERICANA
A Casa Branca apresentou relatório pormenorizado sobre a sua atividade com dados muito interessantes: tem 60% de mulheres, 56% nos cargos de responsabilidade sénior (de longe a Administração americana com mais mulheres de sempre); 36% do “senior staff” e 44% dos conselheiros nomeados por Biden são “racial ou etnicamente diversa”, ou seja ou são negros, ou asiáticos ou latinos ou de outra origem que não caucasiana.
Um dos maiores desafios para este mandato é conseguir avanços no controlo de armas. Depois do mass shooting de San Jose, Biden disse “enough!”.
O Presidente apelou ao Congresso no sentido de que aprove leis claras que restrinjam o acesso às armas. Biden já assinou várias ações executivas sobre “gun control” e a Câmara dos Representantes aprovou duas propostas que alargam verificação sobre os compradores. Mas no Senado a supermaioria de 60 senadores exigida está longe de estar garantida.
Só desde que Biden tomou posse já morreram perto de dez mil pessoas na América em resultado da violência armada. Um horror.
UM CAMINHO LONGO MAS CORRETO
Apesar da “escuridão” trumpiana de 2016, e do que ela representou e ainda representa, a maior parte da sociedade norte-americana quer regressar a uma normalidade democrática que permita entendimentos bipartidários nas questões essenciais e garanta o respeito pelas instituições democráticas.
No primeiro meio ano na Casa Branca, com um oitavo do mandato cumprido, Biden merece, na minha opinião, 18 valores pelo que tem feito na frente interna e um 14 na frente externa (embora com algum risco dessa nota baixar nos próximos tempos, se a retirada do Afeganistão vier a provocar uma situação descontrolada na região).
O caminho é longo – mas está a correr globalmente bem. Muito, mas mesmo muito melhor do que muitos haviam profetizado antes da eleição de novembro de 2020. Nunca foi grande política apostar no falhanço dos Estados Unidos da América.
News Fonte: website Sic Noticias
Jornal TV Brasil 11 99923-2580 SP Redação Jornal TV
Redação







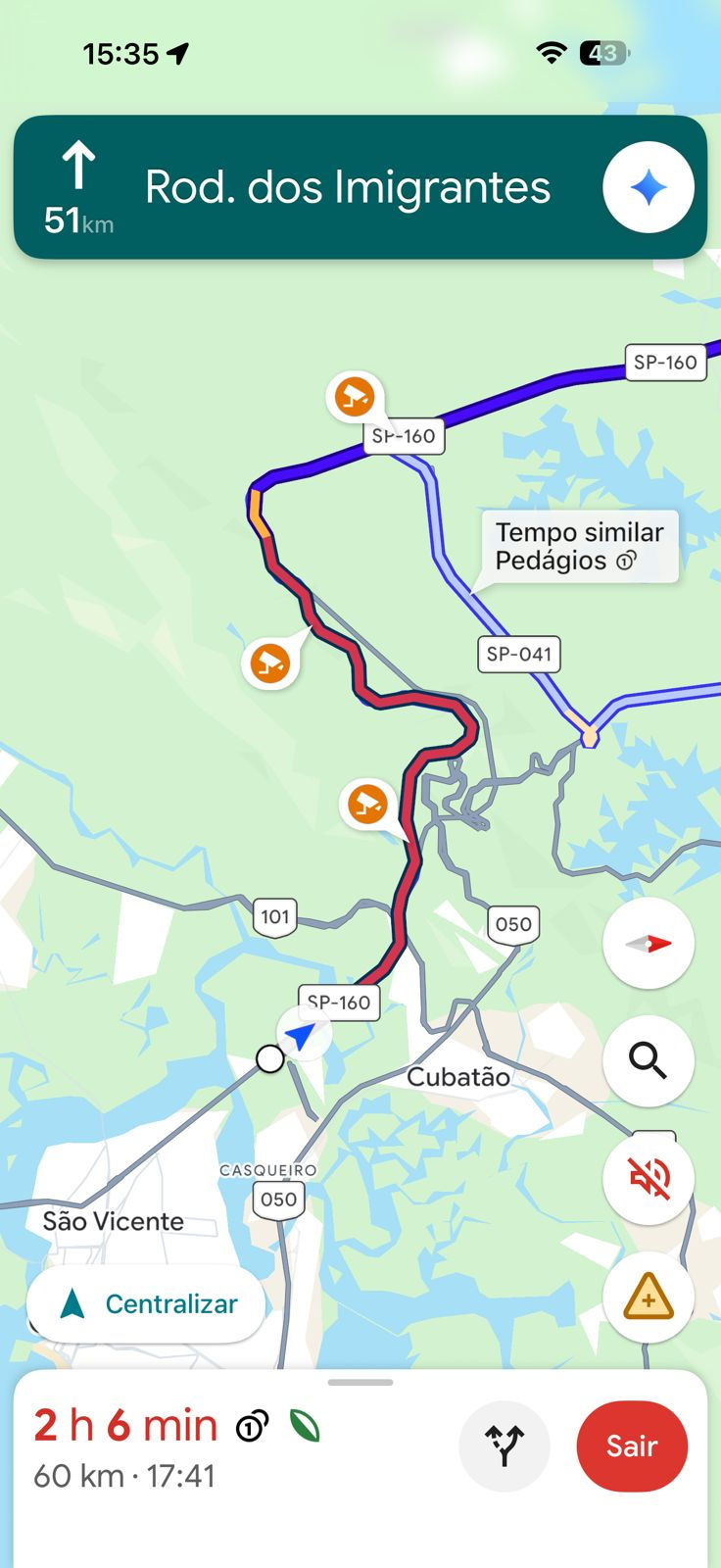
Comentários